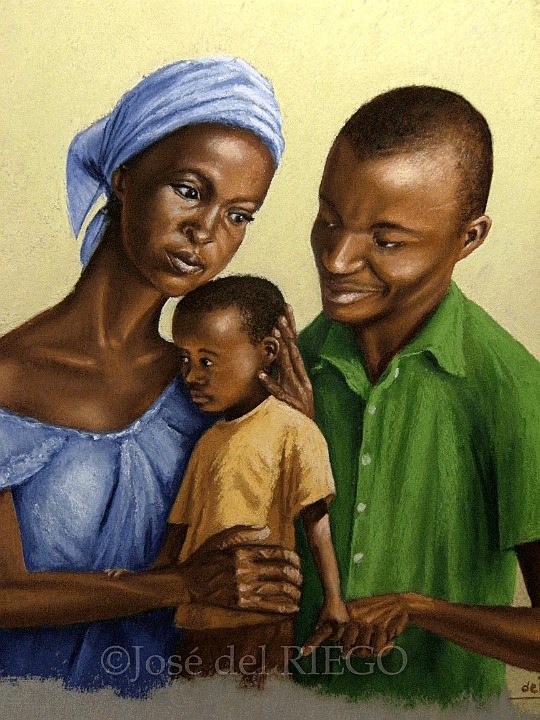OBSERVAÇÃO: Normalmente, neste espaço, publico apenas textos de minha autoria. Hoje abro uma excessão para o texto de Júlio Cesar Meazza Lima, membro da Comunidade da Vigília e pessoa que, no serviço prestado aos empobrecidos de uma das tantas periferias de Porto Alegre, dá testemunho de sua fé no Deus da Vida dado a conhecer por Jesus Cristo. A publicação conta com a devida autorização do autor.
O ridículo também usa hábito
Julio Cesar Meazza Lima (Ir. Pascal, Obl. OSB)
(Estou ciente dos vários riscos, sob diferentes aspectos, ao compartilhar a reflexão que segue. Faço-o, contudo, movido pela inquietação diante da proliferação de certas atitudes travestidas de sagrado.)
Hábito ou fantasia? Tradição ou caricatura? O que acontece quando um símbolo de renúncia vira figurino de vaidade, ostentação e performance, tanto nas redes sociais quanto no cotidiano? Na era da superexposição, onde o que não é visto parece não existir, até o sagrado precisa recriar seu perfil, mas isso não isenta ninguém do cuidado, da coerência e da autocrítica.
O fenômeno que se observa é o engajamento de seminaristas e padres, religiosas e religiosos em coreografias e trends esdrúxulas, para dizer o mínimo, fazendo piadas em reels ou jogando futebol com a batina amarrada na cintura, atitudes que ganham enorme visibilidade nas redes sociais, mas que refletem um comportamento já visto na vida cotidiana, conventual e paroquial.
A inadequação, contudo, torna-se ainda mais flagrante quando o fazem usando paramentos litúrgicos, pois o uso dessas vestimentas específicas não deve ser encarado como um mero traje de trabalho. Banalizá-los é ignorar o que representam.
Tudo isso, portanto, não é mero detalhe pitoresco. É um profundo esvaziamento simbólico e o sintoma aguçado de uma crise de identidade, que não é apenas pessoal, mas institucional, onde a ordem ou congregação religiosa, a diocese ou o seminário, por medo de se tornarem irrelevantes, incentivam ou permitem esse tipo de comportamento.
Como, então, compreender o dito amor pelo hábito e o desejo de diferenciar-se por seu uso, ao mesmo tempo em que se tenta igualar-se a qualquer um que não o usa? A resposta, na verdade, é um paradoxo. E o resultado dessa tensão é a neutralização do símbolo.
O hábito e a batina, para muitos, deixaram de ser sinais de consagração para se tornarem figurinos de performance que, ironicamente, buscam aplausos justamente daquilo contra o que deveriam alertar: a vaidade. Puxado pelo desejo simultâneo de ser sagrado e popular, o símbolo é anulado e perde sua função.
Nada aqui é novo. Em essência, é a mesma crítica que Jesus fazia aos fariseus, cujo problema, necessariamente, não era o uso dos símbolos de piedade, mas a sua amplificação e ostentação, ou seja, o alargar das faixas na testa e nos braços e o alongar das franjas, feito unicamente “para serem vistos pelos outros” (cf. Mateus 23:5). É a troca da consagração pela performance. A praça pública onde se buscava a saudação é o feed onde se mendiga o like. O esvaziamento do símbolo é o mesmo.
Essa inversão é um problema porque, historicamente, o argumento para uma vestimenta exclusivamente religiosa era o diferenciar-se. Ela era uma fronteira visível entre o sagrado e o secular; um testemunho silencioso de que aquela pessoa vivia, ou aspirava viver, sob um conjunto diferente de valores. Sua força estava numa inadequação deliberada. De muitos modos, ele apontava para o transcendente. Era um uniforme de renúncia.
A vestimenta evangeliza pela estética. Partindo desse princípio, é preciso ponderar que o zelo pela visibilidade da vocação se expressa de forma plena e, por vezes, mais profética, através do traje comum e secular. Para muitos, esta é uma opção evangélica consciente, isto é, buscar a identificação profunda com o cotidiano das pessoas, especialmente das mais empobrecidas, suas causas e suas lutas. Nesse gesto, a busca não é por igualar-se, mas identificar-se com a humanidade concreta e sofredora do outro.
A partir do momento, porém, em que se faz a opção de usar vestimentas exclusivamente religiosas como hábito, batina, clergyman, essa escolha pede uma postura diferenciada e explicitamente adequada ao que se veste. Se uma opção pelo símbolo visível da diferença é feita, também se deve optar por posturas que lhe sejam explicitamente afins.
O religioso midiatizado compreendeu que, no mercado da atenção, ele precisa de um diferencial. O hábito tornou-se sua marca, sua identidade visual. É o que o faz ser notado na disputa pela atenção, seja ela online ou ao vivo. Mas essa ferramenta de marketing pessoal tem um custo, e esse custo é a própria alma do símbolo.
Após capturar a atenção com o diferente, sente-se a necessidade imediata de ser aceito, de gerar engajamento. Na esfera pública atual, a moeda de troca é o igualar-se. O religioso precisa provar que é gente como a gente.
É aqui que a estratégia implode. Para se igualar, ele adota o comportamento mais banal do mundo secular: a dancinha esdrúxula, o esporte performático. O religioso quer os dois mundos, ou seja, a autoridade simbólica do sagrado conferida pela vestimenta e a aprovação popular do profano conferida pelos aplausos e likes, numa tentativa de animação vocacional às avessas. Nessa troca, a autoridade é inevitavelmente devorada pela popularidade.
O resultado é a dessacralização. O hábito, que deveria restringir certos comportamentos, torna-se irrelevante. A velha máxima de que “não se vai onde o hábito não for adequado”, um freio que validava o símbolo, evaporou. O hábito funcionava como uma clausura portátil, um lembrete visível de um espaço interior que devia ser preservado. Se hoje o hábito pode estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, ele não significa mais nada. Voltou a ser apenas um pano. Então, por que continuar usando-o?
Para usá-lo assim, como um pano banalizado, talvez fosse melhor, de fato, não o usar. A única justificativa para manter o símbolo é resgatar sua força original, vivendo a coerência que ele exige e pela qual o mundo, sedento de autenticidade, ainda anseia, o que não significa rigorismo triste, fé sisuda, cara de vinagre ou carisma de múmia.
A desculpa da humanização, que muitas vezes é usada para justificar essa banalização, é falha. Não se trata, evidentemente, de condenar a presença no mundo digital, que é um campo de apostolado fecundo, nem de exigir que o religioso seja um anjo etéreo. Mas a humanização que se espera dele não é a trivialidade superficial, por vezes ingênua, outras, ridícula, travestida de proximidade. A humanização autêntica é a proximidade, a misericórdia, a profundidade, a escuta; é a humanidade que se revela na luta, na dúvida compartilhada, na caridade que não é performance, mas serviço anônimo.
Não raro, aliás, a mesma figura que se entrega à performance banal é a que, em outro momento, revela o oposto exato da misericórdia, isto é, o discurso de ódio e o preconceito. Ambas as atitudes, o ridículo e a agressão, provam ser, assim, manifestações da mesma crise de identidade.
O sentido que enfatizava o Papa Francisco ao dizer que “onde há os consagrados, há alegria,” é o da alegria que brota da convicção, e não do engajamento fácil; não é o da trend viral, nem das risadinhas e brincadeirinhas ingênuas divulgadas como sinônimo de vocação feliz e consagração descolada. Ao trocar a profundidade pela performance viral, o religioso não eleva o mundo, ele apenas se rebaixa à sua banalidade.
Isso nos leva à dimensão da ostentação, que não é, necessariamente, material, embora também o seja, especialmente por parte do clero. É uma ostentação de relevância. É o pânico de se tornar irrelevante na sociedade do espetáculo, metamorfoseado no consagrado-show.
Diante disso, o velho argumento de que “o hábito não faz o monge” ganha um novo sentido. Hoje, o hábito não faz o monge porque o próprio monge está tratando o hábito como fantasia. Quando um símbolo de eternidade é usado para mendigar a aprovação do efêmero, seja um like ou aplauso fácil, ele se torna, de fato, ridículo, caricato e bufão. É a dissonância cognitiva de ver um sinal do transcendente sendo usado para celebrar o trivial. É o sagrado pedindo licença ao banal para poder existir.